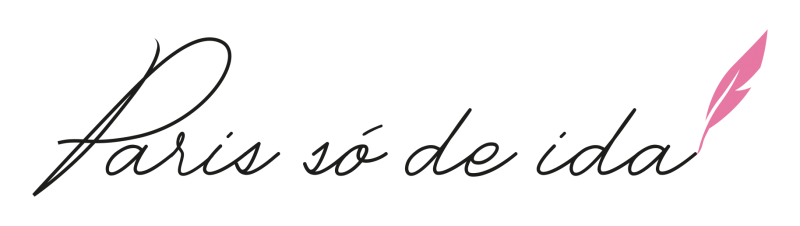Nos últimos dois dias estive imersa em um colóquio intitulado “Literatura e as Relações”, no qual falou-se muito sobre as representações de africanidades e nas reparações possíveis junto à população negra, se é que é possível alguma, após mais de trezentos anos de exploração escravocrata.
Lá pela segunda ou terceira série do ensino fundamental, a gente estuda a escravidão. Com aquela famosa foto de Debret, dos negros carregando uma espécie de charrete, na qual são eles próprios os “cavalos” transportando um “senhorzinho” numa cena humilhante de desumanização total de um ser humano. Tudo isso nos é repassado de uma forma tão distante quando asséptica, como se parafraseando o infame ex-presidente Bolsonaro: “a culpa não é minha, eu não escravizei ninguém.”
Mas o que aprendemos na escola não vai muito além dessa violência generalizada e estatística, ao mesmo tempo descompromissada, que não comove ninguém. Até porque, nas escolas particulares do Brasil, coisa mais rara é ver um exemplar de pessoa preta, ou seja, não há ninguém para nos dizer que as imagens de Debret foram inspiradas em suas bisavós, tataravós, etc.
Já na faculdade… com as políticas afirmativas de inclusão – lê-se, Sistema de Cotas, FIES, etc – as pessoas negras começam a aparecer e, elas sim, e somente elas, podem nos dizer o que foi o regime de escravidão, o quanto aquilo incidiu sobre seus ancestrais e o quanto eles tiveram que se virar para seguirem primeiramente vivos e, em segundo lugar, sãos.
Torturados, estupradas e filhos de estupros – primeira dura realidade: todo mundo que é negro no Brasil é, em algum momento, filho de um estuprador que violentou uma “negrinha”, teve filho com ela e a abandonou, lógico – pois bem essas pessoas violentadas e violadas em seus direitos resistiram pela força, pela teimosia em ficarem vivos. Resistiram pela dança, pela música, pela culinária e pela religiosidade. Na verdade, até hoje resistem.
Veja bem, resistir a uma travessia nos “Navios Negreiros”, nos quais se vinha empilhados, até cinco pessoas em cima de uma, com cheiros de dejetos humanos todo tipo de doença que um lugar insalubre pode trazer. Quem não morria e era atirado ao mar, chegava do outro lado do Atlântico muito debilitado.
Um adendo de dois fatos que soube hoje na aula da Aza Njeri (sigam o canal dela): Os tubarões não costumavam residir no Oceano Atlântico até àquela época. Seu habitat era no Pacífico. Com o tráfego negreiro de mais de 300 anos, com corpos humanos sendo jogados constantemente ao mar, isso atraiu os tais seres carnívoros e, se hoje no Recife um e outro aparece para comer a gente, isso se deve à mudança no ecossistema que essa barbárie causou. Trágico, não?
Pois lá vai outra curiosidade. O que era “servido” para os escravizados no navio negreiro era água salobra, a do mar mesmo, carne seca – a que é preservada pelo sal – ou seja, os escravizados ficavam tão desidratados que os que mais resistiram foram aqueles que tinham retenção de líquido. Isto é, os que não foram capazes de resistir, os que tinham pressão baixa, morreram. Tal fato causou uma “seleção natural” de hipertensos na população negra. A hipertensão é o que mais mata mulheres negras no Brasil atualmente.
E a gente pensando que a escravidão era coisa do passado. Não é, as sequelas são sentidas pelos negros, até hoje: seja na saúde, seja de ordem moral, civil, preconceituosa, seja com relação às oporunidades, à moradia, ao lazer… Enfim, um abismo que advém desde os idos – e tão presentes – 1500 anos.
Destituídas de suas identidades, essas pessoas saíram da África como Congoleses, Nigerianos, Angolanos, de Guiné, de Malauí, de Mali, do Benin, etc, e chegaram aqui como “negros africanos”. Para esclarecer, era como se franceses, portugueses, espanhóis, alemães, noruegueses, etc chegassem todos aqui com suas culturas e costumes e fossem tratados como “europeus”.
Tais negros foram não somente desterrados em suas terras, mas em sua cultura, sua arte, sua língua, sua forma de habitar o mundo e foram estuprados com uma nova língua – o português – além de um trabalho árduo, forçado e não pago.
Perderam família e identidade e é impossível fazer o caminho de volta para se saber de onde vieram, pois não a têm a menor ideia de onde são no continente Africano. Não há registro, foi tudo queimado e exterminado para que tais negros escravizados não tivessem mais vínculo com sua terra de origem. E mais, a cultura africana é bastante oralizada e essas pessoas foram desenraizadas, ou seja, a memória se perdeu no tempo, pois, no Brasil, não podiam exercer sua religiosidade, suas crenças, cozinhar suas iguarias, por exemplo.
Até onde eu sei, minha família paterna é judia fugitiva da Europa, inclusive, se eu quiser requerer meu passaporte europeu, eu posso, pois, de alguma forma, sou uma desterrada de lá. Sobre a família de minha mãe, sei que viemos da Itália e chegamos no Brasil no final do século XIX.
Agora, vai uma pessoa negra tentar saber de onde veio. Ela só consegue voltar até a terceira geração acima de si, o que é ontem. Algumas pessoas fazem testes de DNA para tentarem buscar suas origens, seus ancestrais.
Agora, imagine, religiosos como somos enquanto povo, como é não saber de onde vêm seus ancestrais? Como cultuar seus mortos – coisa que fazem católicos, candomblecistas, umbandistas, espíritas – se não é possível saber quem são, onde viviam, o que faziam? Como construir uma ancestralidade, aquela que nos dá um lastro e um caminho, isso que dizemos ser “coisa de família” quando nos referimos a uma tradição, se não se pode buscar a tradição e os costumes de quem o pariu? É puxado.
Maafa – termo utilizado por Marimba Ani – que significa o Holocausto Africano, referindo-se ao processo de escravização que aconteceu pela Europa, nas Américas, escravizando Africanos. Aza Njeri, no caso, minha professora maravilhosa da PUC, mulher preta, estudiosa dos movimentos diaspóricos de África, ela adensa o termo Maafa e o define como uma desumanização radical dos negros que chegaram por aqui.
Destituídos de todo e qualquer direito enquanto humanos, utilizados como máquinas e fontes de prazer ou reprodução de mais escravos, essas pessoas foram despossuídas do viver. Contudo, muitas dessas pessoas teimaram em seguir vivas e seus descendentes estão aqui para nos contar as histórias, as que sobraram das memórias dizimadas.
Mas ainda falta. Falta muito para que haja minimamente uma reparação. Falta, por exemplo, ensinar nas escolas que as consequências e as sequelas da escravidão perduram até hoje. Fala de Aza Njeri: “nós pretos precisamos negociar todo santo dia com vida para seguirmos vivos”. Preto não pode correr na rua porque é confundido com bandido. Preto não pode carregar guarda-chuva, pois pode ser confundido com um fuzil e, portanto, ser alvejado pela polícia. Preto não pode ter carro porque a polícia vai parar e dizer que é roubado. Preto não pode ir à escola sem correr o risco de levar uma bala “perdida” que só acha preto, pretas – muitas crianças – faveladas.
Enquanto escrevo esse texto, Heloísa, de três anos, está entre a vida e a morte, pois levou um tiro da PRF. Sem mais.
Portanto, não dá mais. Não dá para ver o “quarto de empregada” nos fundos de uma casa, sem TV e sem janela e continuar perpetuando com esse abuso. Não dá para separar a louça de empregados e patrões. Não dá para aguentar mais nenhuma piadinha de preto e nem ser contra o sistema de cotas e o bolsa família.
Não dá pra fingir que não aconteceu e não ser um agente de mudança. Não dá mais. Chega!