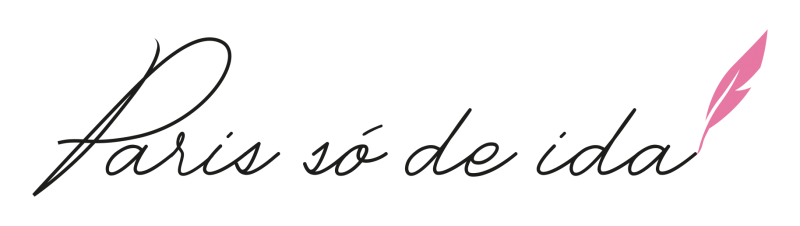Ana num mar à deriva.
Era dia comum bem no meio da pandemia. Nada demais, a não ser um conflito ou outro desses que a nova rotina confinada e obrigada a conviver de perto toda hora do longo dia impõe a todos os mortais.
Ana tentava se equilibrar. Ana sempre tenta se equilibrar. Aliás, sempre tentou. Desde menina, Ana sempre tentou se equilibrar entre medos, ansiedades e um tanto de sanidade, esperança e alegria que lhe trouxeram até aqui.
Mas era dia comum e Ana já estava até aqui desse “novo comum”, de uma morte iminente e do perigo do contágio justamente pelas pessoas mais próximas, as mais amadas. Um paradoxo no qual ela tenta, há três meses, em vão, também se equilibrar. Muitas vezes cai.
Dez e meia da manhã de um domingo – que nunca é um dia comum, domingos são sempre carregados de urgências de felicidade com um misto de nostalgia. A partir do meio dia, o disco vira pra segunda que certamente é melhor do que o domingo. A segunda-feira concretiza a ansiedade da véspera e, ao fazê-lo, diminui o sofrimento. Pois bem, dez e meia da manhã desse domingo incomum, o telefone toca, era de uma imobiliária que queria falar com a proprietária de um apartamento que Ana morara pelo tempo que fora casada, num passado recente, mas que está looooonge, como tudo o que é pré-pandemia ficou.
“Há anos saí desse apartamento que nunca foi meu”. Disse.
Desligou e, como numa enxurrada, como numa chuva que começa fininha e cai, Ana desaguou de saudade. Saudade de si dentro daquele lugar que lhe era tão familiar, uma saudade de casa, de canto de colo. “Hoje, até meu quarto na casa dos meus pais é estranho”, pensou. Tudo desinfetado, álcool gel espalhado e até um relaxante que precisou entrar na rotina pra dar conta desse mundo novo.
Sentiu saudade da janela, da vista que dava pro mar, saudade de cada cômodo e do escritório abarrotado de livros que nunca lera e nem eram dela. Saudade dos espaços criados em uma casa sem móveis, saudade daquele vazio, de um vazio que era muito mais dela, de Ana, esse vazio que ela carrega feito bagagem há anos. Saudade dos hábitos e de um regaço que a acalmava.
Pensou como é que tem tanta coragem de se largar no mundo, de se lançar em outras paragens, outras, paisagens, outra carreira, quase outra vida. Também pensou em como não ter coragem de simplesmente VIVER enquanto se está VIVA. Viver, esse risco que se corre a cada nova decisão, a cada escolha, cada separação, a cada um que vem, vai… a cada dia. Precisa de coragem para ser covarde, concluiu.
Deixou-se ficar ali naquela turbulência por um bom tempo. Deixou as lágrimas escorrerem numa tentativa de que elas levassem o medo. Medo. difuso, sem endereço, esse medo que ela traz de criança e que “vezenquando” se disfarça numa desculpa adulta, tipo, medo de ser contaminada. É medo, é real, mas tá cheio de medo dentro desse medo também, e Ana sabe. Por isso chora. De medo e de saudade de um tempo em que o medo parecia estar contido naquele apartamento enorme que nunca fora dela, mas que, num domingo qualquer de um ano incomum, apareceu como se fosse.
Dali, do alto do trigésimo oitavo andar de uma idade que ainda promete muito, mas que já se viveu bastante, ela regressa pra si. Resgata-se trazendo-a ao presente, acolhendo a criança com medo pelo abraço dessa adulta que se lê, se reconhece, mesmo sem conseguir se conter. E chora. Tudo bem, pensa, chorar é uma forma de não se deixar adoecer. Bate e escorre feito chuva, em lágrima.
Ana se mexe. Sabe que saudade é sofá que não se senta. Sabe que depois de todos esses dias incomuns, há de haver uma vida de volta. Não aquela, nem aquela outra, muito menos a que já fora. Outra. Sempre outra, ainda que seja repleta de permanências, de passados e de presente, mas sempre outra, com um novo furor, um novo futuro a ser desenhado a cada nova decisão, a cada escolha, cada separação, a cada um que vem, vai… a cada dia.
Como num mar à deriva, boiando e se deixando afetar pelas ondas.
Ana.